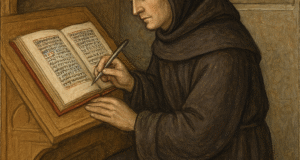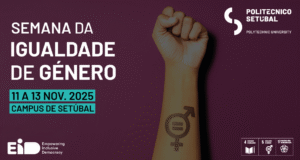Tempo de leitura estimado: 4 minutos
A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista (CCPJ) parece ter-se transformado, ao longo dos anos, num organismo que fiscaliza convicções mais do que práticas. O seu modo de agir denuncia um viés ideológico que ultrapassa a mera aplicação da lei e que, no caso das publicações de inspiração religiosa, se torna num obstáculo quase intransponível. Há uma linha invisível que separa o jornalismo reconhecido do jornalismo tolerado — e o religioso tende sempre a cair do lado dos excluídos.
O papel da CCPJ e o preconceito institucional
Durante quatro anos, fui diretor e editor da revista Tempos de Encontros, publicação católica afetada à Santa Casa da Misericórdia de Guimarães, com periodicidade regular, estrutura editorial estável e uma clara missão informativa e formativa. Solicitei diversas vezes a carteira profissional de jornalista, apresentando provas do exercício contínuo da atividade: reportagens, entrevistas, editoriais e testemunhos de colaboradores.
No entanto, a resposta foi sempre a mesma — indeferimento. Não por falta de trabalho jornalístico, mas por preconceito quanto à natureza confessional da publicação. Assim, parecia bastar o facto de a revista nascer de uma instituição cristã para ser considerada incompatível com a definição de jornalismo.
Essa atitude revela um anticlericalismo institucional, discreto mas persistente, que ainda se insinua em certas estruturas da comunicação social portuguesa. Além disso, é o mesmo espírito que confunde fé com proselitismo e independência com ausência de valores. O jornalismo confessional não é doutrinação: é uma forma legítima de participar no espaço público, iluminando a realidade a partir de uma perspetiva ética e espiritual. Excluí-lo é amputar a pluralidade da comunicação social e reduzir o jornalismo a uma ortodoxia ideológica travestida de neutralidade.
A liberdade religiosa e a Constituição Portuguesa
A Constituição da República Portuguesa é clara: o artigo 37.º garante a liberdade de expressão e de informação, e o artigo 41.º protege a liberdade religiosa e de consciência. Estes direitos não se contradizem — completam-se.
Contudo, defender a liberdade de expressão enquanto se limita a liberdade religiosa é uma incoerência civilizacional. Quando um organismo público recusa reconhecer o trabalho jornalístico feito em publicações religiosas, está a negar o pluralismo que a democracia deveria cultivar.
Importa recordar que a CCPJ não é uma instituição do Estado, mas um organismo público independente, composto essencialmente por representantes da classe. Por essa razão, deveria ter cuidados redobrados na interpretação das regras, evitando que o seu poder de reconhecimento se transforme num instrumento de exclusão. Assim, a independência que invoca para si mesma exige imparcialidade e sentido de justiça — não alinhamento ideológico.
O jornalismo que nasce da fé
O jornalismo que nasce da fé é, muitas vezes, o que mais se aproxima da vida real. Nas misericórdias, nas paróquias e nas instituições de solidariedade produz-se informação sobre o humano, o social e o invisível. É ali que se denuncia a pobreza, a solidão e a injustiça, sem medo de ferir sensibilidades políticas.
Além disso, ignorar esse trabalho é negar a própria essência do jornalismo: dar voz a quem não tem voz. O que se pede à CCPJ não é deferência religiosa nem simpatia institucional — é apenas justiça.
Um apelo à justiça e ao pluralismo
A laicidade não deve ser uma arma de exclusão, mas uma garantia de equidade. A neutralidade do Estado — e dos organismos que orbitam à sua volta — não consiste em afastar o religioso do espaço público, mas em tratá-lo com a mesma legitimidade que qualquer outro discurso. Só assim a liberdade de imprensa será verdadeiramente livre e a democracia plenamente plural.
Por outro lado, quando se observa o modo como este organismo atua — com uma estrutura mínima de cinco funcionários, longe dos holofotes e sem escrutínio externo — é legítimo questionar se não existe uma discriminação seletiva, que silencia uns e protege outros. Talvez o caso recente de Maria João Avillez, cuja carteira profissional foi discutida com zelo desproporcionado, revele essa tendência.
Em suma, talvez ela própria tenha sido, como tantos outros, “cilindrada” por uma comissão que, paradoxalmente, sendo parte da comunicação social, permanece fora da sua luz.
Paulo Freitas do Amaral
Professor, historiador e autor